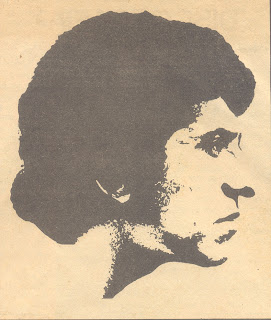A coluna dominical Rio Fanzine, do jornal O Globo, em sua edição de 08/05/88 trazia uma matéria sobre a banda inglesa The Clash, uma das bandas surgidas nos anos 70 durante a explosão do punk rock. Fazendo um som que ia muito além da batida característica do punk, o The Clash se tornou uma das bandas mais representativas de um estilo de rock cru, sem firulas e com uma batida de peso. Na época estava sendo lançada uma coletânea da banda, chamada "The Story of The Clash Vol.1", e o jornalista Tom Leão fez uma matéria sobre a banda e o lançamento. O título da matéria é "Clash - Rock de combate", numa alusão a um de seus discos mais representativos, "Combat Rock":
" 'No Elvis, Beatles or Rolling Stones in 1977', lado B do single 'White Riot', o Clash entrava em cena na efervescente Londres no ano idem, como quem chega para mudar geral. E mudou. Com suas letras e postura rebelde, o Clash mexeu no rock que se fazia então. Foi a única banda que enxergou além da pose e dos alfinetes. O Clash ousou, mudou, errou, acertou e realmente trouxe de volta a suposta honestidade que o punk tencionava recobrar ao rock'n roll. Não há como ignorar os Sex Pistols. Mas o Clash foi mais longe: fundiu o reggae ao rock, utilizou elementos funk e fez a cabeça de all the young punks (ou não) em todo o mundo. E mais: simplesmente gravou um dos melhores discos da história do rock. Hoje, com a falência de quase tudo o que o punk rock construiu, ouvir o Clash ainda é fundamental.
E nada mais precioso que (re)descobrir o grupo através da coletânea dupla "The Story of The Clash Vol.1", que a CBS está lançando no Brasil neste início de maio. São 28 faixas que contam parte da história do grupo que foi revolucionário em seu tempo. Eles entenderam qual era a proposta do punk, e nunca abraçaram aquele papo de radical, por isso, foram malhados pelos punks fascistas, que os acusavam de 'traidores'. Outra coisa que incomodava essa turma de cérebro encolhido, é que a banda, desde o começo, gravou pela CBS, um dos símbolos máximos do 'sistema' na área musical. E daí? Nada melhor que usar esses poderes a seu serviço (eles até satirizam o fato com a canção 'Complete Control'). Por causa disso, seus discos foram distribuídos em todo o mundo (a versão americana do primeiro elepê, que conta com faixas extras, saiu aqui no Brasil em 1978 e quase ninguém viu). Melhor que ficar restrito a meia-dúzia de gatos pingados.
Esta primeira parte da história do Clash é indispensável mesmo para quem tem todos os elepês pela seguinte razão: inclui lados B de compactos (que diferiam em suas edições inglesas e americanas). As canções estão dispostas em ordem cronologicamente inversa, pegando o ouvinte da fase final e o transportando aos poucos até o comecinho. Nada daquele Clash arremedo que Strummer criou em 1985. Ao final concluímos o já sabido: o Clash só fazia música boa. Não é pra qualquer um.
Contar novamente a história do Clash é perda de tempo. É aquela velha magia que reúne amigos de um mesmo lugar (no caso Brixton). Porém tudo começou em Shepherds Bush Green, em Londres, quando esses amigos (Paul Simmonon, Mick Jones e Terry Chimes) cruzaram com Joe Strummer, em maio de 1976. Figurinhas trocadas (Strummer tocava numa banda de jazz e R&B, The 101'ers, e os outros três na London SS, que nunca fez um show), veio aquela pergunta: por que nós não tocamos juntos? No mês seguinte fizeram o primeiro show, em Sheffield. Aí não pararam mais. Surpreendentemente, foram recusados pelo gerente do Marquee Club, notório reduto do rock inglês desde os anos 60, que disse: 'Desculpe, não aceitamos punk rock aqui'. Pisada na bola. Tudo bem. Eles correram atrás, arrumaram um contrato, Chimes deu lugar a Nicky 'Toper' Headon, e em três fins de semana gravaram o disco mais importante do punk rock: 'The Clash'.
O resto, como diria minha avó, é história. Mas vale falar um pouco sobre as pessoas, pois cada um tinha seu estilo e destaque. Joe, filho de pai indiano, nascido em Ankara, cresceu ouvindo discos de Woody Guthrie. Era o mais politizado da banda; Mick adorava posar de rockstar, fazendo de sua guitarra a coisa mais importante da vida; Paul, o rebelde, abandonou a escola e realizou seu sonho: tocar numa banda de rock; Nick, integrante do Bromley Contingent, a primeira turma punk da Inglaterra, fazia o gênero calado, porém era genioso.
Destacar faixas ou achar que as antigas eram melhores que as novas e vice-versa é besteira. Podemos sim destacar só as raridades: 'This is Radio Clash', que foi lançada apenas em mix e aponta a tendência funk na última fase do grupo: 'Bank Robber', um reggae-dub incluído no clássico mini-elepê 'Black Market', de 1979; e mais vários compactos, alguns constantes apenas na versão americana do primeiro elepê, como 'Clash City Rockers', 'White Man in Hemmersmith Palais', 'Complete Control', 'Armaggideon Time' (regravação de um reggae de Will Williams, com participação de Micky Gallagher, dos Blockheads no órgão), e o novo/velho hit, 'I Fought The Law', que voltou ao top 20 inglês após 10 anos.
No mais, é só apurar a sensibilidade para sentir o vigor das primeiras iradas canções, como 'Tommy Gun' (o primeiro single americano), 'Janie Jones' e 'Corer Oportunist'; a finíssima produção de músicas como 'Straight to Hell', 'Guns of Brixton', 'Train in Vain' e 'The Magnificent Seven', e o toque de 'Capital Radio', homenagem a uma das primeiras rádios piratas a operar na costa inglesa, que tem na introduçaoo uma pequena entrevista feita com o Clash. Que venha o volume dois!"