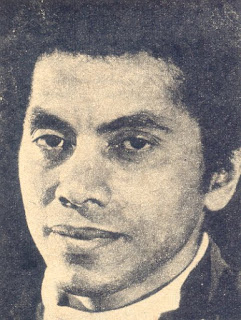O compositor Walter Franco se notabilizou por seu trabalho de difícil entendimento para o grande público, mas apurado, lírico e profundo para quem entende sua proposta. Sua fama de maldito vem daí, da difícil assimilação de sua proposta, do hermetismo de seus versos e melodias, de sua postura zen, quase despreocupada diante da falta de entendimento de suas propostas estéticas. Em sua edição de 03/02/76, o jornal O Globo traz uma boa matéria com o músico paulista, assinada por Ana Maria Bahiana, e intitulada "Walter Franco, sem medo como as crianças":
" 'Que que tem nessa cabeça, irmão?' Uns três anos e meio atrás, foi a pergunta que ele lançou para uma plateia algo perplexa, que o vaiou, muito mais do que aplaudiu, num festival da canção. Para o público, que travava seu primeiro contato com ele, era no mínimo estranho ser chamado assim de irmão por um estranho. Para ele próprio, aquele momento representava um ponto final, o encerramento de um ciclo - e um novo ponto de partida. Que o levou ao ponto de partida. Que o levou ao ponto de chegada atual - marcado pelo lançamento se seu disco Revolver. Que nada mais é, por sua vez, senão mais um ponto de partida, num fluxo contínuo, como o das águas.
Corre por aí a lenda de que é dificílimo entrevistar Walter Franco. Mas não é: difícil, sim, é colocar num papel uma entrevista com Walter Franco, transmitir a uma terceira pessoa os fluxos e refluxos de palavras, as marés circulares de ideias. E sem trair o espírito original da conversa: Walter, como observou muito bem o jornalista José Miguel Wisnick, 'tem um cuidado ritual com as palavras'. Elas são o seu utensílio básico, sua matéria-prima, sua ferramenta de trabalho. ele não desperdiça nenhum som. Nem quando compõe, nem quando fala. 'A palavra tem de ser exata. Foi João Gilberto que nos ensinou isso. A palavra tem de ser suave e firme e exata como um golpe de caratê.'
Walter Franco é, ele mesmo, uma pessoa suave, firme, exata. A voz sai baixa e controlada quando fala, o fio do pensamento não é contínuo, mas é claro. Os gestos são fluidos como os de um lutador de kendô. É sem dúvida admirável encontrar tanta calma em alguém que foi, durante a maior parte de sua vida, o alvo favorito dos ódios alheios. 'Sou de São Paulo mesmo, da capital. Como toda minha família. Minha idade? (Ri, um riso de gato, introspectivo.) Já passei pelo muro, aquele muro que a gente custa a passar. Sofri muito, foi uma barra pesada.' (Walter tem 31 anos, nasceu num dia de Reis, 6 de janeiro, signo de Capricórnio. 'Dá pra se notar, não é?).
E a música? A maior parte do público só conheceu Walter Franco no Festival Internacional da Canção, de 1972, com a hipnótica Cabeça ('Que que tem nessa cabeça, irmão/ sabe que ela pode/ ou não?/ ou não?'). 72 foi por assim dizer, a abertura a temporada oficial de caça a Walter Franco. Mas houve outras escaramuças, antes. 'Faço música desde os tempos dos festivais universitários. Participei de todos os festivais universitários da Tupi de São Paulo. Fazia toadas, canções, as coisas que todo mundo fazia naquela época. Mas já então havia uma coisa assim... hãããã arregala os olhos)... um susto... a meu respeito. Eu estava procurando uma linguagem minha, uma linguagem própria, uma ligação direta... Essa busca, as experiências, foi um ciclo posterior aos festivais. Cabeça foi o encerramento desse ciclo.'
Walter Franco sentado num banco, cabelos nos ombros, barba, olhos brilhantes, repetindo uma língua entre fala e o canto, o 'que que tem nessa cabeça, irmão?' Com eco, sem eco, com distorção, feedback. Em volta a plateia, a plateia vaiando num coro uníssono, quase apoteótico. 'Foi um momento de grande violência. Eu sabia que estava confundindo as pessoas lançando o sim e o não numa contagem muito rápida. As pessoas reagiam jogando de volta uma carga negativa fortíssima, mesmo quando eu repetia uma palavra positiva como 'irmão'.
Logo a seguir um disco: capa banca, uma mosca num canto, um 'não' escrito na contracapa. Seria Walter Franco um charlatão? Os que haviam absorvido as vibrações negativas emanadas no Maracanãzinho nem sequer abriam o disco - na verdade, ele deve ser o LP menos vendido da fonografia brasileira, algumas dezenas de cópias, só. Quem ouviu, descobriu uma música nova, difícil às vezes, provocante sempre, resumindo a atualizando as lições de João Gilberto, mestre confesso de Walter. Ele se refere a esse período como 'ciclo do não'.
'O disco não vendeu por minha culpa, mesmo. Eu me segurei, eu me escondi, me guardei, porque havia deflagrado movimentos demais com 'Cabeça'. Entre o disco do não e Revolver há todo um processo de auto-anulação, um caminho para a não-violência que é o sim. Eu não poderia repetir 'Cabeça', não uma coisa igual, mas um momento semelhante, porque ia provocar um curto-circuito paralisante. Então, num espetáculo que eu fiz em São Paulo, só eu, o violão e o microfone, eu cheguei ao grito primal com o sim. E eu senti que quando percorria todo o meu corpo, despertando tudo, destapando a cabeça. Eu senti que tinha conseguido a ligação direta. A partir daí, tudo é só exercício, o exercício com o toque, o tátil.'
No meio das evoluções iogues e pacíficas de Walter Franco houve o festival Abertura. Cara limpa, olhar calmo, violão e 'Muito Tudo', singela, quase sopro. Mas, na plateia, de novo os urros e vaias concordes. 'Aí eu já acho que foi uma outra coisa. Ninguém estava vaiando 'Muito Tudo'. Eles estavam vaiando a mim, ou melhor, estavam vaiando uma imagem que eles tinham feito de mim. É aquela coisa de cada pessoa ter um curta-metragenzinho dentro da cabeça, projetando naquela hora.' E você, sofreu? Sentiu alguma coisa? 'Não, já não senti nada. Cada pessoa tem uma defesa, é só questão de exercício. Eu percebi que todas aquelas pessoas estavam querendo descarregar suas raivas. É como uma chuva, um temporal.'
Agora, Walter vem andando de branco na diagonal, numa rua de São Paulo: é a capa de Revolver, seu disco novo. Na contracapa, em braile ('o toque, o tátil'), há uma palavra: 'sim'. No disco, a mesma inquietude somada a uma base elétrica, rítmica, pulsante, uma base de rock.
'Foi um disco muito trabalhoso de se fazer. Por um lado foi difícil, mas bom, porque havia uma comunicação muito intensa entre os músicos. Tudo começou com Rodolfo Grani (baixo, teclados), que é o meu braço direito. Através dele foram chegando outros, até formar um núcleo muito unido, uma transação muito... sólida... tátil. (Carlinhos Sion, produtor do disco, aparteia: 'Dizem até que a gente era uma máfia'. Walter sorri: 'Quase isso... quase isso...'). Foram 198 horas de estúdio, mas devia se muito mais. Mas, a partir de um certo momento, eu senti que havia... não sei bem como dizer... uma vontade muito grande, em algum lugar, de que esse disco não se fizesse. Aí a gente se uniu mais ainda, para enfrentar isso'.
- E você, está satisfeito?
Um longo silêncio.
- Eu tenho a impressão de que, agora que todo mundo já descarregou, o ar está limpo. E esse disco tem passado coisas muito boas para as pessoas. Isso é o que eu queria, acima de tudo. Que o disco fosse uma coisa positiva, boa, sim-cera. Tudo depende da sim-ceridade.
- E a eletricidade, o rock? Onde entra no esquema não-violento?
-Esse é um disco de corpo inteiro. Antes as pessoas só me viam em parte. Eu mesmo só me via em parte. Agora, se você junta as duas metades, você tem um corpo inteiro. Esse disco envolve tudo, todos os centros de energia, é essa a ligação com o rock, que é dança, o corpo inteiro. E também São Paulo, uma cidade violenta, onde eu sempre vivi, que pega e tritura tudo, revolve... Revolver é mesmo a palavra exata para esse disco, esse momento. Revolver tudo o que ouvi, tudo o que eu sou. Revolver as pessoas. A eletricidade... é o estúdio... as contagens... já que estou num estúdio, então vamos entendê-lo, usá-lo como um canal, aproveitar tudo, revolver...'
E assim a conversa circular de Walter Franco se completa. Revolvendo, girando. Na televisão está passando um filme, uma cena onde um moinho d'água movimenta uma forja de metais. Walter presta atenção só a essa cena: 'A água é mais forte', diz ele num sussurro. Depois, no fim da conversa, olhando as amendoeiras da rua, impressionado porque elas passam por todas as estações do ano em poucos meses, ele volta à ideia da água. E a João Gilberto.
'A água é mais forte. Nada resiste à agua, ela passa por tudo, vai, leva, é um fluido, gera movimento. A música de João Gilberto é pura água, pega você, te leva. Você não pode é ter medo, ficar como um animal na própria toca, fechado, sendo um animal, só. Você tem que e abandonar, sem medo, se deixar levar. Como as crianças.'
As crianças, em geral, gostam muito da música de Walter Franco. "